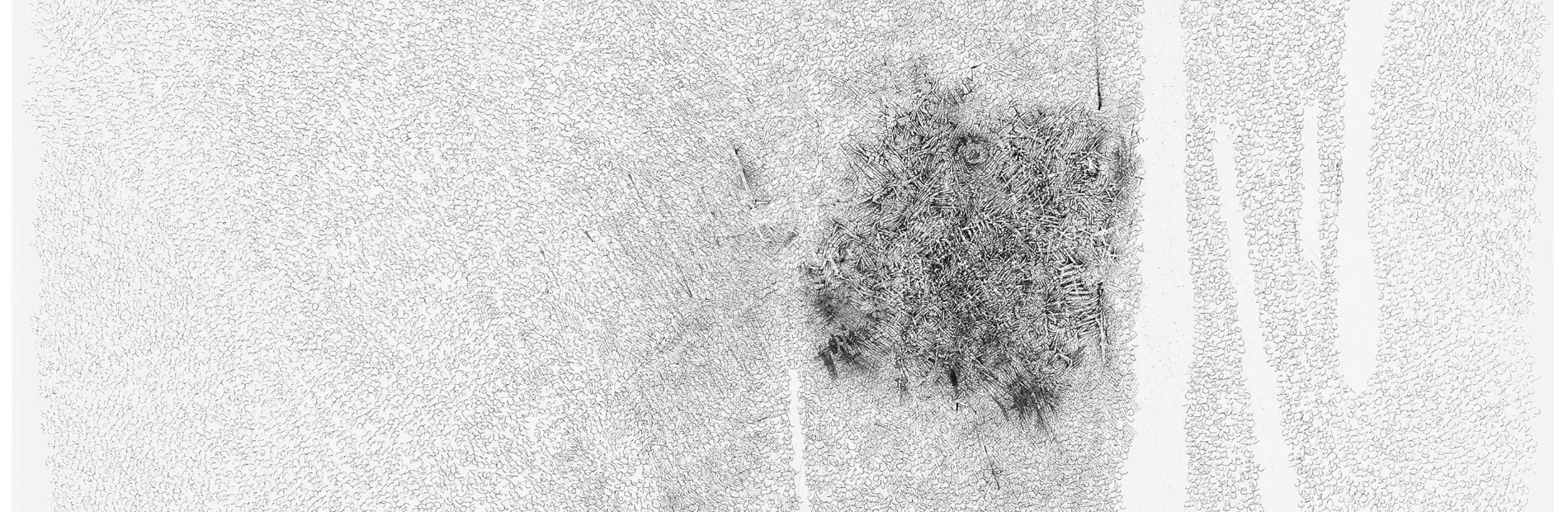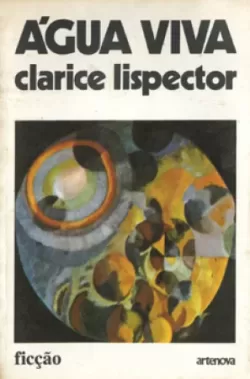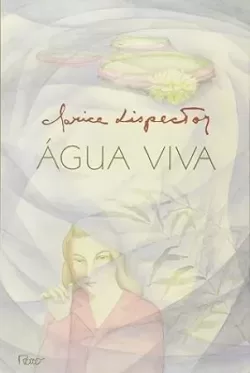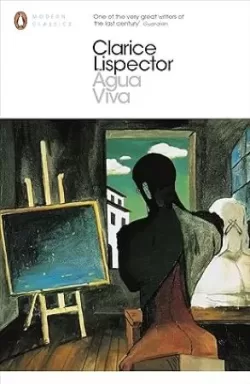LISPECTOR, Clarice. Água viva. Rio de Janeiro: Artenova, 1973.
Pâmela Nogarotto
Ilustração: Catalina Chervin
Ainda que soe em um potente fluxo poético do instante-já, Água viva foi retrabalhado e reintitulado por três vezes ao longo de três anos antes de ser publicado, em 1973, por Clarice Lispector (Chechelnyk, Ucrânia, 1920 – Rio de Janeiro, RJ, 1977). A primeira versão, de 1971, intitulava-se Atrás do pensamento. Monólogo com a vida. A segunda, Objecto gritante. Com a ajuda de Olga Borelli, grande amiga da autora, a obra foi reduzida pela metade e finalmente se tornou Água viva. A busca era por um texto cada vez mais impessoal e universal, como destaca Alexandrino Eusébio Severino (2015), a quem a autora confiou a tradução da primeira versão datilografada do texto. Publicado quatro anos antes de sua morte e trinta anos após sua estreia como romancista, o livro assenta-se em um lugar da escrita madura da autora. O procedimento adotado é o de uma espécie de enxerto de fragmentos de crônicas publicadas anteriormente e de textos de A legião estrangeira (1964).
Em 6 de março de 1972, um ano antes da publicação do livro, Clarice Lispector declarou ao Correio da Manhã: “Ele já está pronto, sim, mas acho que só vou editá-lo o ano que vem. Sabe, eu estou muito sensível ultimamente. Tudo o que dizem de mim me magoa. O Objecto Gritante é um livro que deverá ser muito criticado, ele não é conto nem romance, nem biografia, nem tampouco livro de viagens. E, no momento, não estou disposta a ouvir desaforos. Sabe, Objeto Gritante é uma pessoa falando o tempo todo”.
A curta ficção – e chamar de ficção, neste caso, é limitar-se pela falta de um termo mais preciso – é, como define a autora, um livro escorregadio, um livro que não é. Benedito Nunes (2004) caracteriza Água viva como um texto fronteiriço e inclassificável, enquanto Hélène Cixous (1990) o descreve como “um livro fora das leis da narrativa”. Sem enredo convencional, a narradora – que é também a protagonista e única personagem – escreve à medida que as ideias surgem. Sobre ela, sabe-se muito pouco: é uma pintora que se aventura agora a escrever. Sua escrita é endereçada a um “tu” desconhecido (o leitor?).
Tempo e espaço são pouco ou nada delimitados no texto. O fluxo das palavras apenas brota. Se há um tempo, é o tempo de toda a história da humanidade pela qual a narradora anda enquanto está sentada em frente à máquina de escrever – o Triássico, a Inquisição da Idade Média, o lado de lá da vida.
Dessa forma, cada leitor deve achar o seu modo de fazer o texto clariceano legível. Uma das maneiras de se aproximar da narrativa é insinuada pela própria narradora: com o corpo, já que o procedimento da pintora é criar “de corpo todo”. Da mesma forma, a escrita é declaradamente de corpo todo: “é também com o corpo todo que pinto os meus quadros e na tela fixo o incorpóreo, eu corpo-a-corpo comigo mesma”.
Trata-se, assim, de fazer aparecer na escrita o ausente, é a pintura-escritura da fixação do incorpóreo. Somente pelo que se pinta e escreve, pondo-se de corpo todo, seria possível se aproximar daquilo que não tem corpo, o it.
Cabe relacionar a protagonista de Água viva, que não recebe um nome, a duas outras personagens de Clarice Lispector que também são artistas: a escultora G.H., de A paixão segundo G.H. (1964), e Virgínia, de O lustre (1946). Embora Virgínia não seja explicitamente apresentada como escultora, ela cria pequenas estátuas de bonecos, um exercício que dialoga com o ato de moldar. De início, as escultoras são aquelas que moldam e dão forma à matéria informe. Se dar forma à matéria bruta é a profissão de G.H., a mulher experimenta no livro a desintegração da própria forma. Por sua vez, quando está com coragem, Virgínia vai até a margem do rio e lá encontra o melhor barro: branco, maleável, pastoso, frio. Esse barro é recolhido por ela e é daí, dessa matéria, que serão modelados os seus bonecos. A escrita tenta dar forma ou deformar ainda mais a massa amorfa da beira do rio.
Em Água viva, a pintora busca sair da sua linguagem – o quadro, a tinta – para se aproximar dessa matéria informe por meio das palavras. A escrita, assim como o ato de moldar, revela-se um esforço de dar forma ao caos, ou talvez de desformar ainda mais aquilo que está na beira do rio, na margem do inominável.
O texto respira, vibra, e é na lógica da respiração, de um grande fôlego, que pode ser lido. Em consonância com a leitura de Cixous (1990), não existiria portanto uma arquitetura, uma “caixa romanesca”, um cerceamento do fluxo da narração. É o próprio corpo da narradora (ou escritora?) e do leitor que determinariam o momento de parar e de continuar. É uma narrativa de fôlego, menos no sentido figurado de algo grandioso, apesar de também o ser, mas antes e principalmente no sentido literal. Como diz a protagonista: “O próximo instante é feito por mim? Fazemo-lo juntos com a respiração”. E ainda: “O mundo não tem ordem visível e eu só tenho a ordem da respiração. Deixo-me acontecer”.
Água Viva é, em resumo, composto por “temas atemáticos”. Sem enredo, fragmentário, onomatopeico, convulsão da linguagem, é texto para ser visto de cima e com distanciamento. O apelo não é para que se leia com a linearidade de uma narrativa tradicional, mas “rapidamente como quando se olha”. É uma escrita de “signos que são mais um gesto que voz”. A busca do instante-já – um mote do livro – colabora com a criação de um texto fugidio, pois é um entre-lugar no tempo: não sendo o que foi, tampouco aquilo que virá a ser, o instante-já é o que escorrega entre os dedos. Instante-já, portanto, é a impossibilidade do tempo. Ao querer “possuir os átomos do tempo [e] capturar o presente que pela sua própria natureza me é interdito: o presente me foge, a atualidade me escapa, a atualidade sou eu sempre no já”, reivindica-se um tempo inexistente, uma criação, um forjamento. É a margem do passado-futuro; é-se no fosso.
Se há um ponto central no livro, este é o it. A “coisa”, o “núcleo”, o “objeto”, o “indizível” – o it enfim, esse fio condutor que perpassa a obra da autora e assume diferentes nomes. Sua primeira aparição pode ser localizada como “coisa” no primeiro capítulo de Perto do coração selvagem, romance de estreia de Clarice Lispector. Difícil de ser descrito, o it é o inapreensível, o que escapa à linguagem e, no entanto, só se insinua a partir dela.
No livro de 1973, o desejo é o de pegar a palavra com a mão. Não porque a palavra seja a coisa, o it, mas porque ela o esposa, aproxima-se dele o tanto quanto pode. É a linha, visível, palpável, deixando ver a entrelinha, o espaço em branco, o silêncio – como se lê a certa altura: “O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas”. Invisível e impalpável, o it vibra em Água viva e, paradoxalmente, pode ser sentido entre os dedos.
Na busca de uma palavra, pode-se dizer que o livro propõe um estranhamento. Mais do que isso, propõe que se atravesse esse estranhamento. Lê-se: “Quando estranho uma pintura é aí que é pintura. E quando estranho a palavra é aí que ela alcança o sentido. E quando estranho a vida aí é que começa a vida. Tomo conta para não me ultrapassar. Há nisto tudo aqui grande contenção”. A narração convida o leitor a desligar-se da significação, a voltar ao som, ao corpo, ao grito. “O que saberás de mim é a sombra da flecha que se fincou no alvo. Só pegarei inutilmente uma sombra que não ocupa lugar no espaço, e o que apenas importa é o dardo”, ou seja, algo é lançado no ponto tenro da palavra e deixa sua sombra. É a sombra que a narradora tentará apalpar. A sombra é o it. O que permanece é o dardo. A sombra não ocupa lugar no espaço, incorpórea; o dardo, sim; o dardo é a palavra, concreta, corpórea. Já em outro trecho, lê-se: “Quero escrever-te como quem aprende. Fotografo cada instante, aprofundo as palavras como se pintasse, mais do que um objeto, a sua sombra”. Sobre essa revelação do que é incorpóreo, Cixous afirma que “Clarice trabalha com a linguagem em si e com sua relação com o corpo, o paradoxo que faz com que as coisas incorpóreas e sem realidade sejam encontradas e ditas mais facilmente por serem nada mais que palavras”. Assim, o que é da ordem do corpo (o texto, a palavra, o livro) faria surgir o incorpóreo, o it.
Água Viva é um mundo pós-palavra, mas que busca alcançar a primitividade da palavra — ou, em tempo, atravessá-la, ultrapassá-la. É escrever como quem pinta, como quem canta. É morrer e renascer, voltar como quem lança a primeira palavra ou a última, como quem pega a palavra com as mãos e, ao mesmo tempo, é apanhado por ela. Como quem aceita a entrada na caverna, quer estar nas paredes. É o grito de transgressão. O grito da coisa.
Para saber mais
CIXOUS, Hélène (1990). Reading with Clarice Lispector. Tradução, edição e introdução de Verona A. Conley. Minneapolis: University of Minnesota Press.
NODARI, Alexandre (2018). O indizível manifesto: sobre a inapreensibilidade da coisa na “Dura Escritura” de Clarice Lispector. Revista Letras, UFPR, Curitiba, v. 98, p. 83-113. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/letras/article/view/66898/39721. Acesso em: 04 ago. 2024.
NUNES, Benedito (2004). A narração desarvorada. Cadernos de Literatura Brasileira, n. 17-18. São Paulo: Instituto Moreira Salles. p. 292-301.
PENNA, João Camillo (2018). Das ding. Revista Letras, v. 98, p. 31-55.
SEVERINO, Alexandrino Eusébio (2015). As duas versões de Água Viva. Remate de Males, Campinas, v. 9, p. 115-118.
SOUZA, Carlos Mendes de (2000). Figuras da escrita. Braga: Editora da Universidade do Minho.
STIGGER, Veronica (2016). O útero do mundo. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2016. Disponível em: https://mam.org.br/wp-content/uploads/2016/10/outerodomundo.pdf. Acesso em: 4 ago. 2024.
Iconografia